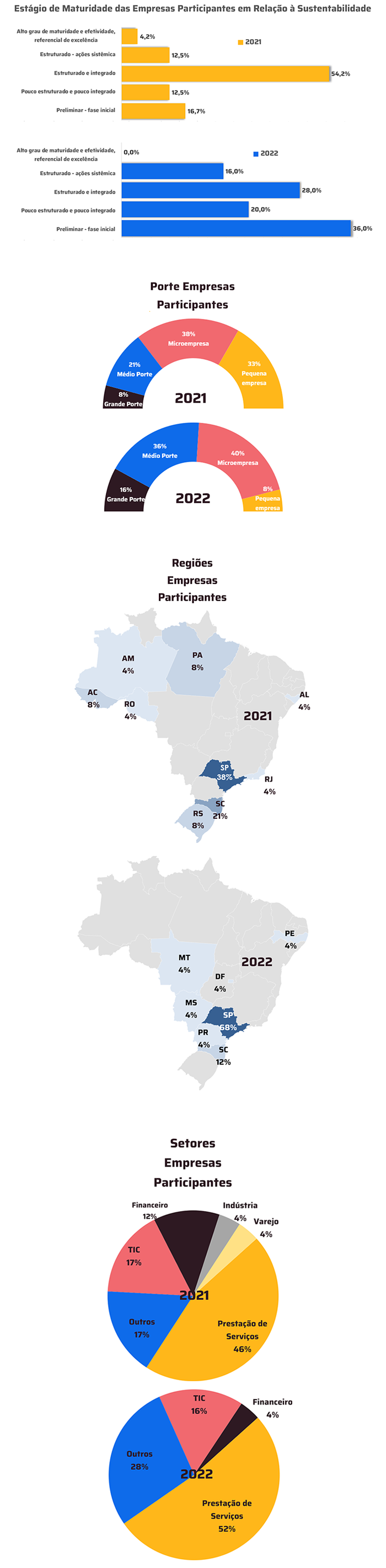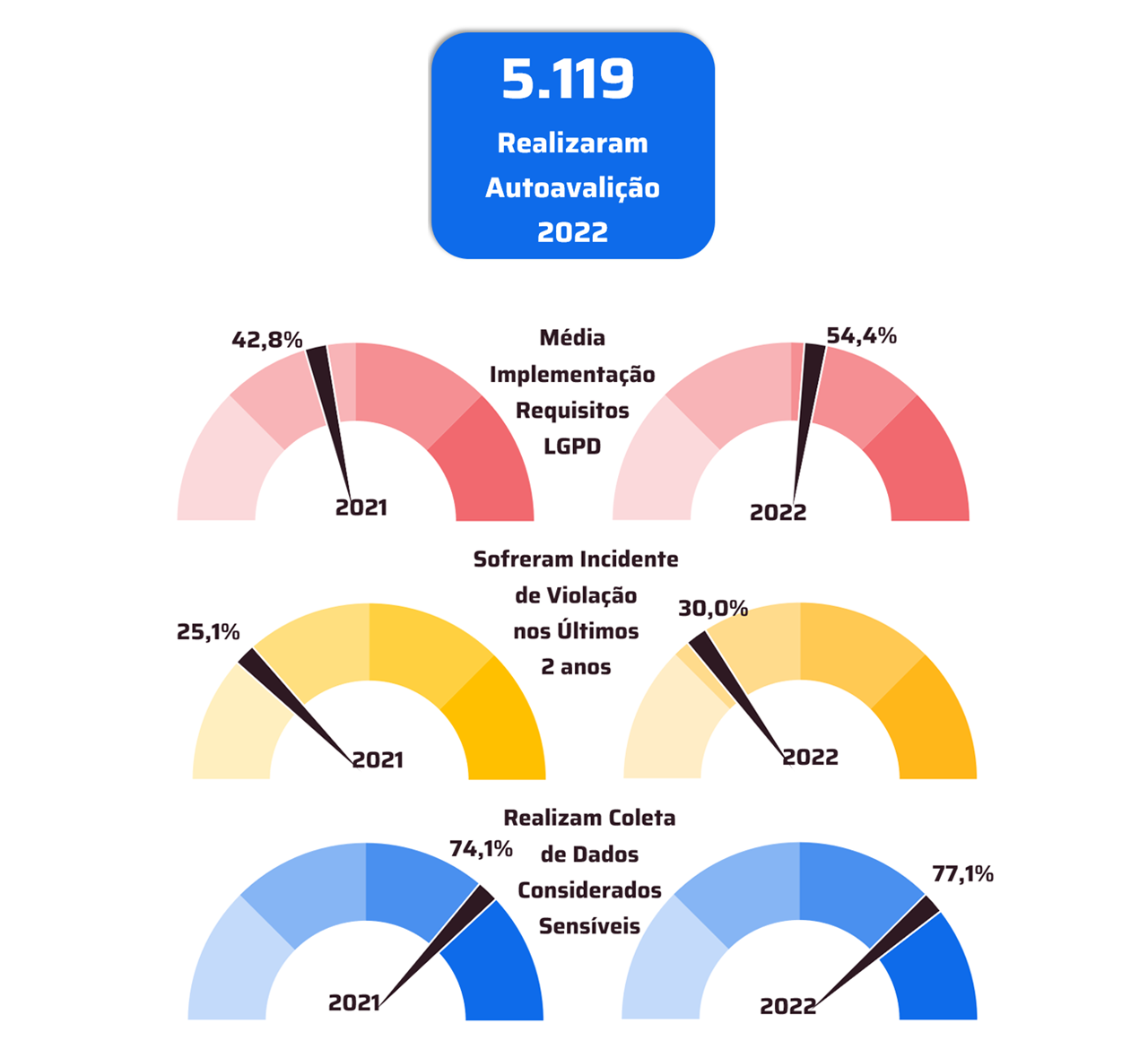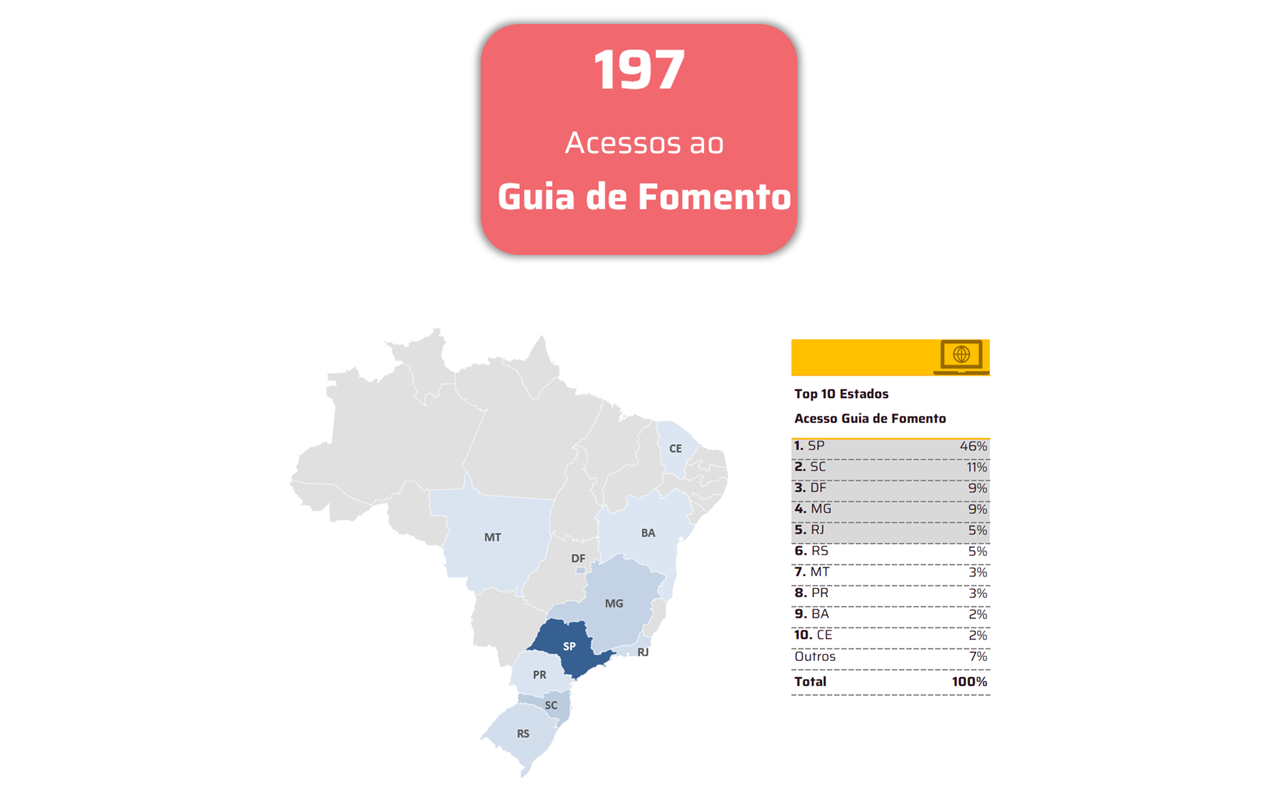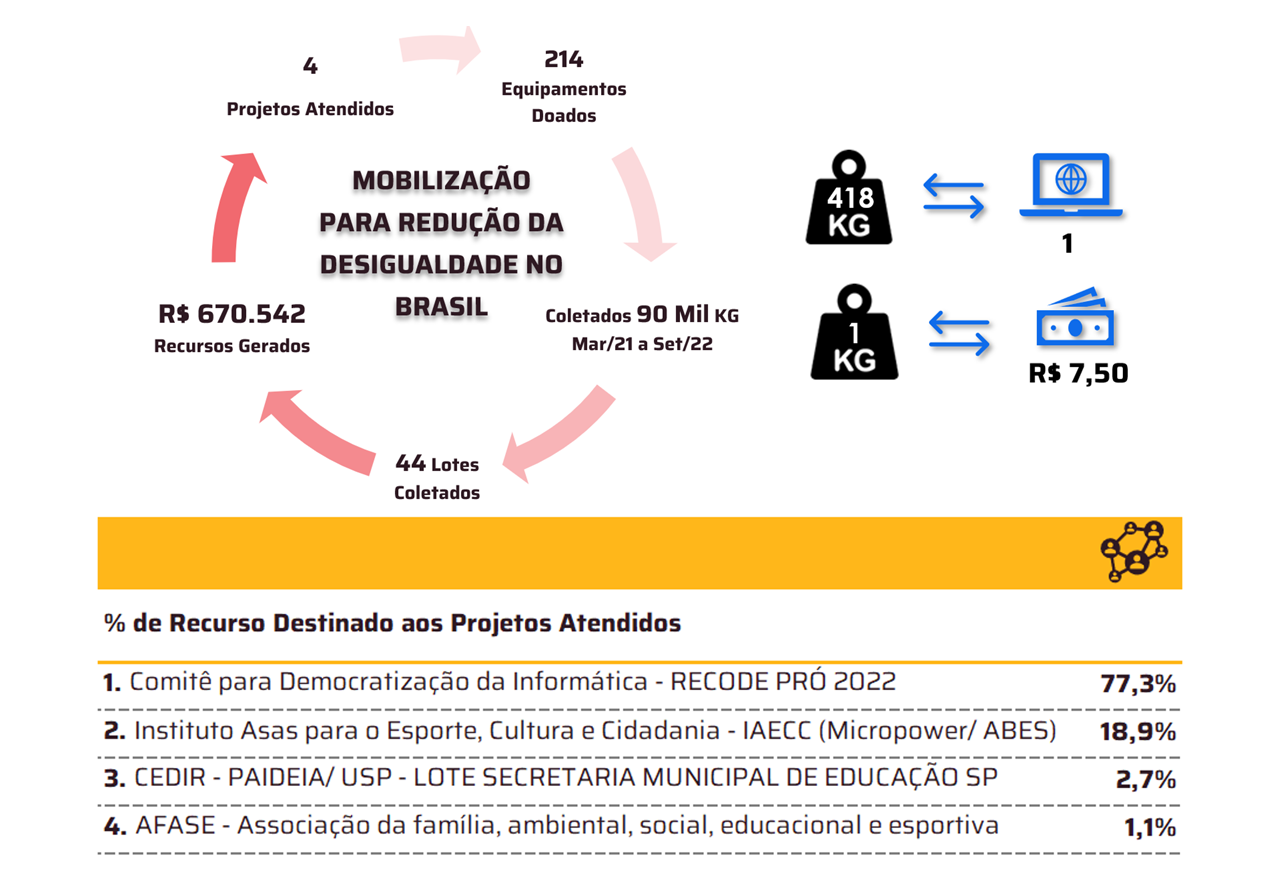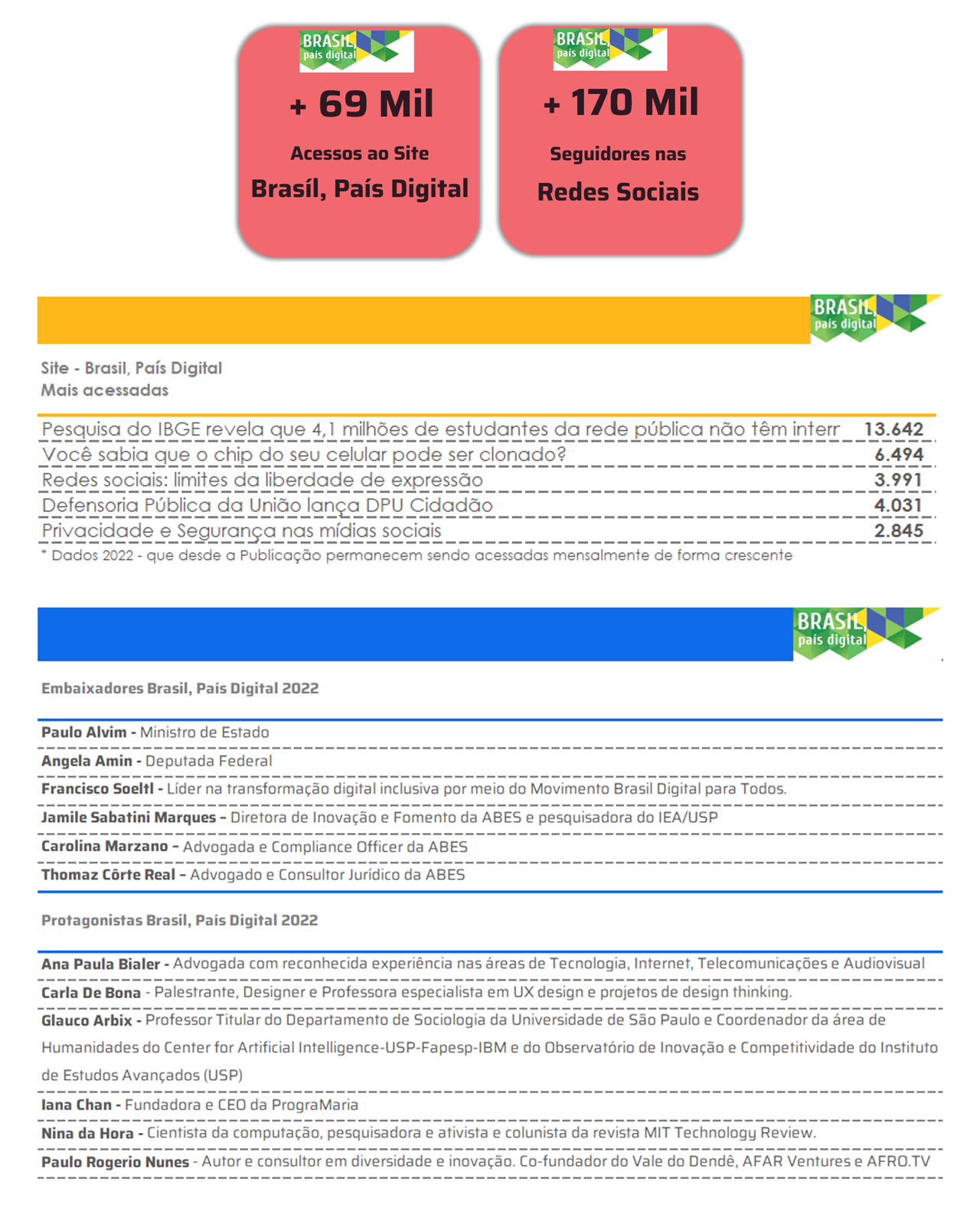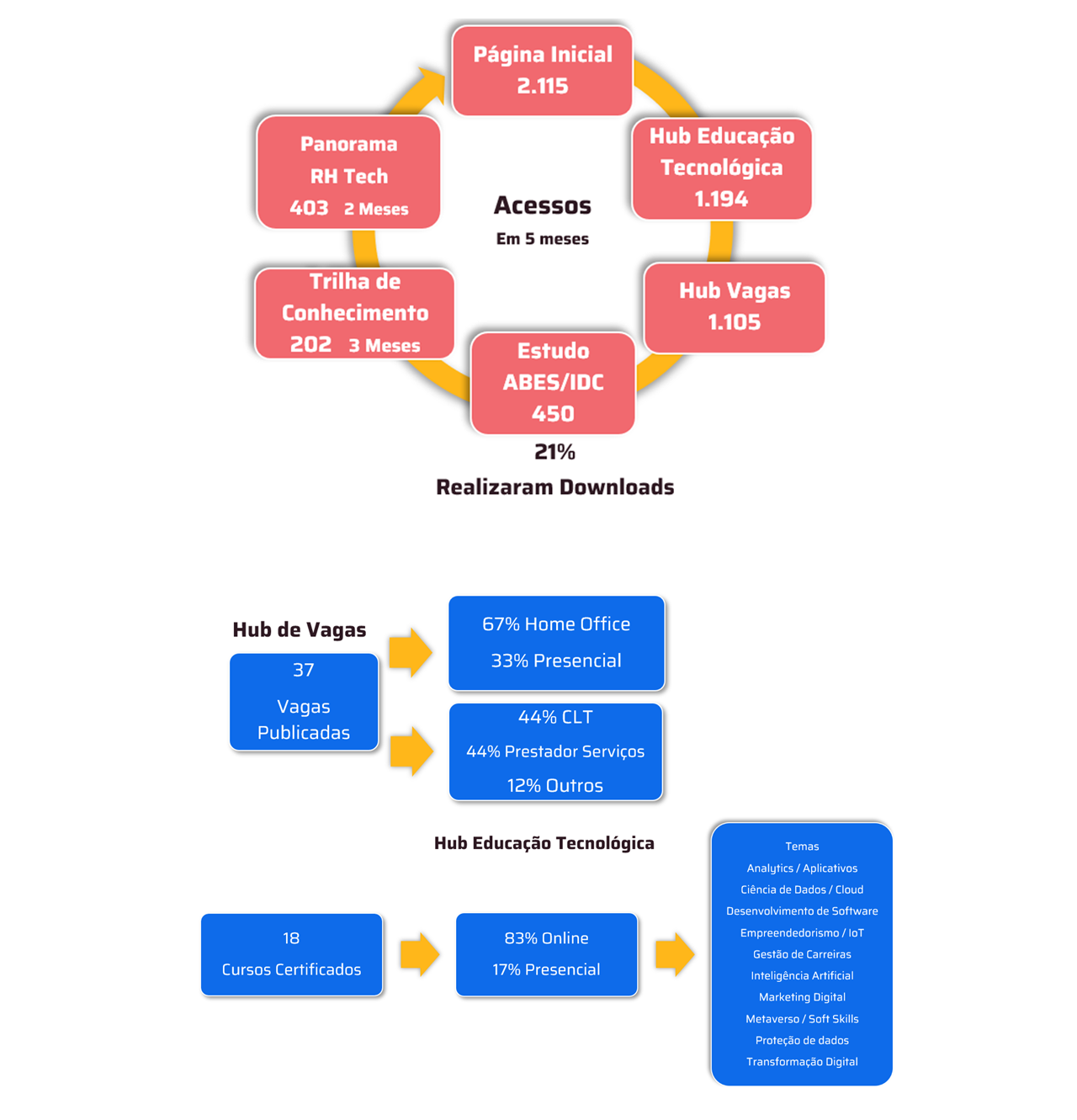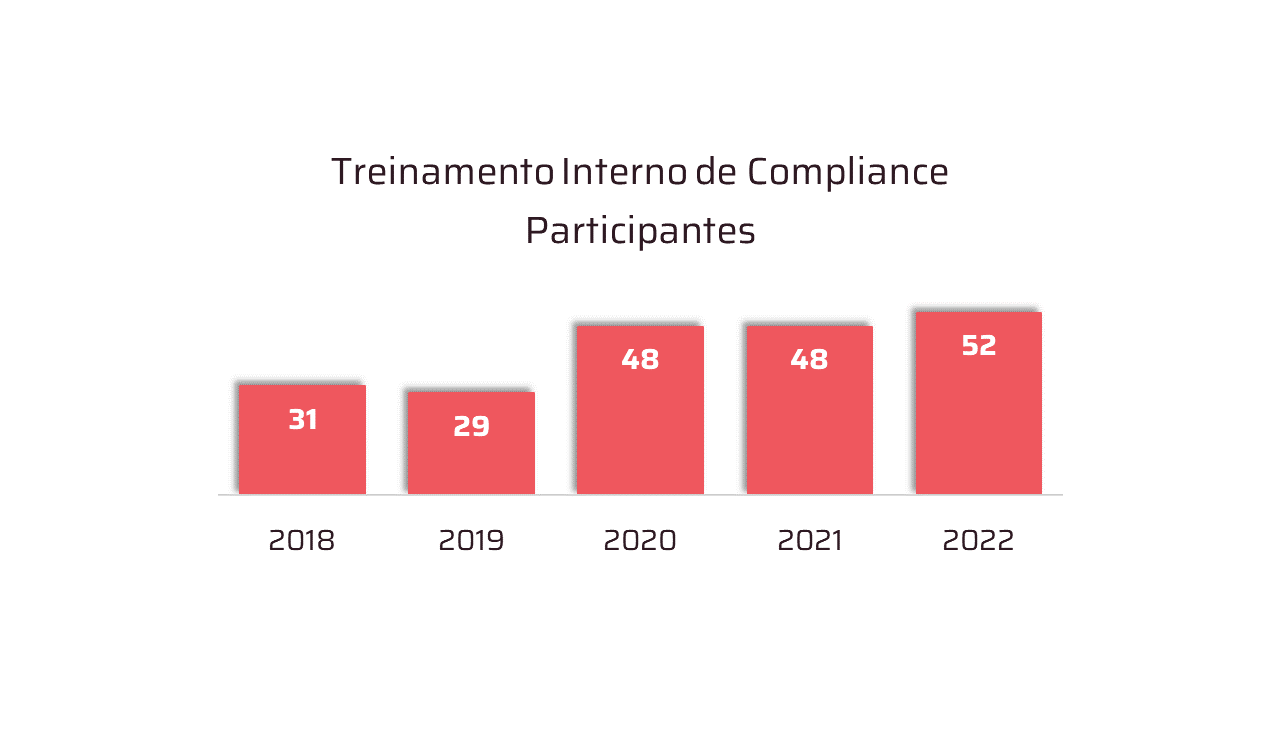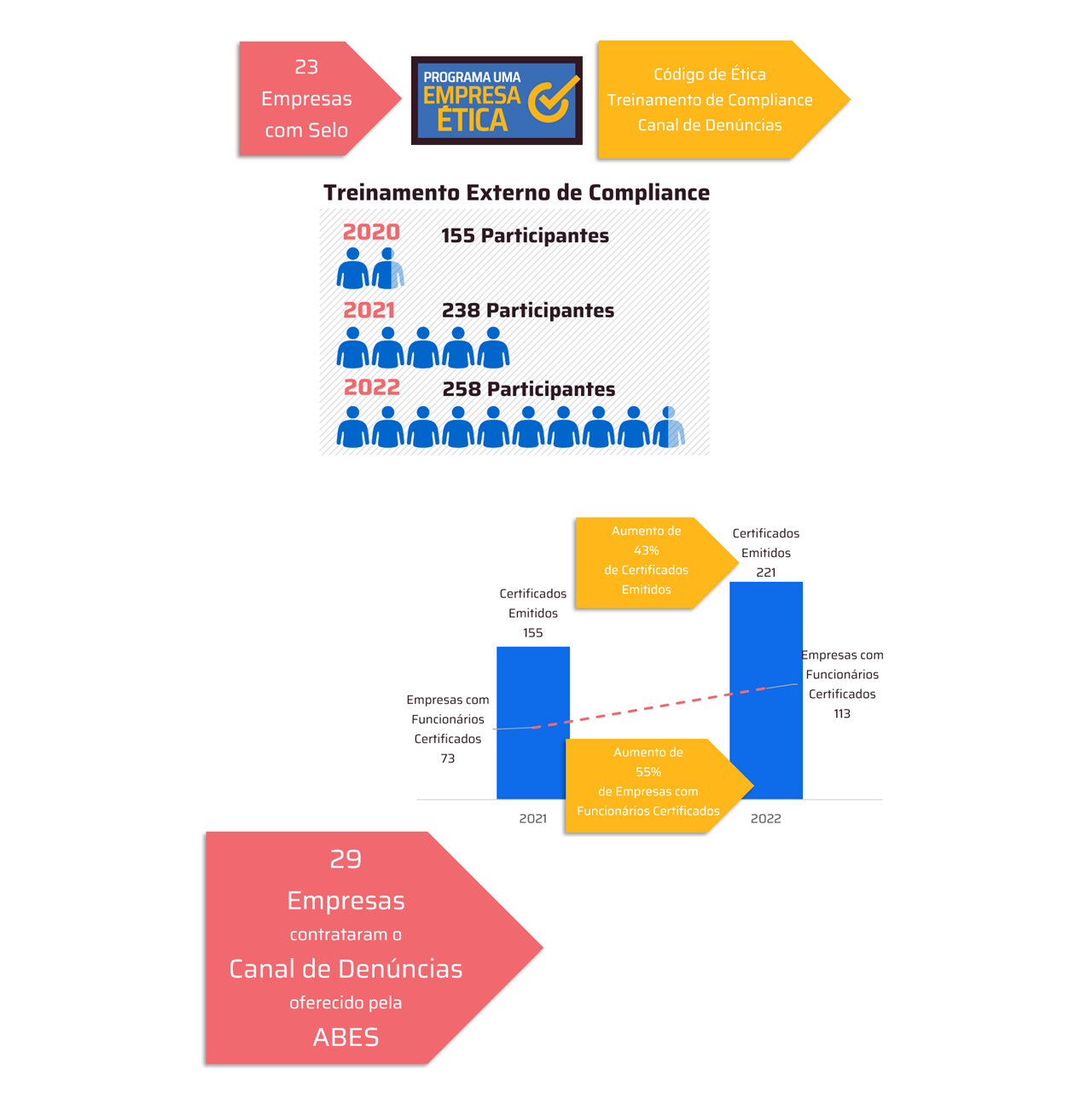Golpes se sustentam em uma lógica perversa que instrumentaliza a vulnerabilidade
 *Por Marcelo Batista Nery
*Por Marcelo Batista Nery
Minha mãe tem 85 anos, meu pai, 94. Para contextualizar essas idades, vale lembrar que, quando ela migrou da Bahia para São Paulo, parte do trajeto foi feito em uma locomotiva a vapor (as populares Maria-Fumaça). Já meu pai nasceu no então Distrito Federal — ou seja, na cidade do Rio de Janeiro, quando ainda era a capital do Brasil. Juntos, na capital paulista, viveram por anos em uma casa sem rede de esgoto, abastecida por poço artesiano e sem energia elétrica, em um bairro que hoje está completamente urbanizado. Ambos fazem parte dos 22,2 milhões de brasileiros com 65 anos ou mais, segundo dados do último Censo Demográfico.
Tenho preocupação com eles (meus pais) e com a população idosa em geral. Essa preocupação, contudo, se intensifica em três momentos distintos. O primeiro surgiu durante meu trabalho no Instituto São Paulo Contra a Violência (ISPCV), ao analisar dados do Disque-Denúncia (181) — serviço coordenado pelo ISPCV — e constatar que as denúncias de violência contra crianças e idosos só ficavam atrás daquelas relacionadas ao tráfico de entorpecentes. O segundo veio com as inquietações próprias do envelhecimento, especialmente no que diz respeito ao risco social a que essa população está exposta — tema que discuto com frequência na OPAS/OMS. O terceiro é o agora.
Nos últimos meses, meus pais passaram a ser alvos recorrentes de tentativas de golpe. Um dos mais comuns envolve ligações telefônicas informando sobre uma suposta compra, seguidas de pedidos para confirmar dados pessoais. Curiosamente, o nome da loja é sempre o mesmo: uma rede popular de móveis e eletrodomésticos, conhecida pela mascote carismática e pelo sistema de crediário. Ao conversar com amigos e pesquisar sobre o assunto, percebi que o problema era mais amplo do que eu imaginava — e foi aí que veio a surpresa. A suscetibilidade a esses golpes não se explica apenas pela falta de conhecimento ou compreensão, mas por fatores semelhantes aos encontrados em casos de violência denunciada: a exploração da vulnerabilidade.
Idosos e suas redes de apoio geralmente estão cientes da existência de fraudes. Sabem dos riscos envolvidos em chamadas suspeitas, links maliciosos ou promessas de benefícios “fáceis”. No entanto, assim como nas situações de violência, os golpes se sustentam em uma lógica perversa que instrumentaliza a vulnerabilidade. Confiança, luto, medo, solidão, dependência e ambiguidade tornam os idosos alvos mais suscetíveis — especialmente em situações fora da rotina ou que exigem respostas imediatas (como o golpe do falso sequestro, suposta emergência médica, compra indevida em cartão de crédito ou entrega de encomenda não solicitada, com solicitação de pagamento ou confirmação de dados, por exemplo).
Não se trata apenas de desinformação. Muitos idosos não foram socializados no universo digital. Aplicativos bancários, sistemas de agendamento médico, plataformas de serviços públicos e redes sociais funcionam com lógicas de interação pouco intuitivas para quem não cresceu nesse ecossistema. Deficiências visuais ou auditivas dificultam ainda mais a identificação de sinais de fraude. Portanto, mesmo idosos alfabetizados, informados e com trajetória educacional sólida enfrentam barreiras — não por limitações cognitivas, mas por exclusão sistêmica acelerada nos processos de design e comunicação. Ainda assim, esse não é o foco principal aqui.
Cabe destacar que essas análises não seguem um método científico formal. Elas são baseadas em observações empíricas realizadas durante meu período de atuação no ISPCV, complementadas por relatos de terceiros e por experiências pessoais. Ainda assim, podem servir como indicação, provocação inicial ou ponto de partida para reflexões mais sistemáticas e futuras investigações acadêmicas.
Cientes disso, antes de abordar o mundo hiper digitalizado e a crescente presença da Inteligência Artificial (IA), é necessário compreender ainda a exigência do tempo — e tempo é algo que os sistemas digitais, por padrão, muitas vezes não oferecem. Precisamos pensar em estratégias de comunicação que respeitem a trajetória de vida dos idosos e que fortaleçam sua autonomia. Isso não significa apenas “explicar melhor”, mas reconhecer que comunicar é, sobretudo, um ato de cuidado.
Em um cenário em que a origem e a confiabilidade da informação são cada vez mais difíceis de discernir (seja no campo institucional, tecnológico ou político), a falta de compreensão pode gerar não só confusão, mas também maior risco de golpes e manipulação.
Assim, a incorporação crescente da tecnologia no cotidiano tem, de fato, enorme potencial transformador. No entanto, também revela desigualdades históricas. Em muitos aspectos, os idosos estão entre os mais vulneráveis nesse novo ecossistema digital. Além das barreiras já conhecidas da infoexclusão, enfrentam agora sistemas automatizados, opacos e regidos por lógicas algorítmicas.
A alfabetização digital da população idosa não deve ser tratada como um luxo ou uma etapa opcional. É uma necessidade urgente de política pública. É fundamental investir em programas de inclusão digital com foco em ambientes comunitários, envolvendo familiares, cuidadores e redes locais no processo de mediação tecnológica. O envelhecimento da população brasileira torna esse imperativo ainda mais claro.
Com o uso crescente de assistentes virtuais, chatbots, sistemas de recomendação, triagens automatizadas em saúde e plataformas de atendimento digital baseadas em IA, novos desafios emergem. Esses sistemas, ao operarem com linguagem padronizada e pouca margem de adaptação, acabam excluindo os idosos. A interação com máquinas que “não escutam”, “falam difícil” ou “não respondem o que pergunto” (como relataram alguns idosos com quem conversei) pode gerar frustração e desinformação.
A substituição de atendentes humanos por interfaces baseadas em IA pode representar inovação para alguns, mas, para muitos idosos, simboliza a desumanização do serviço. Interfaces com letras pequenas, excesso de cliques, ausência de feedback sensível e uso de jargões técnicos transformam o acesso à informação em barreira — e não em ponte.
A IA, embora prometa inclusão, pode também aprofundar processos de exclusão. Com a popularização de ferramentas capazes de gerar textos, imagens e vídeos realistas, a manipulação emocional se torna ainda mais sofisticada. Muitos idosos, acostumados a confiar em fontes tradicionais e figuras de autoridade, tornam-se mais vulneráveis a conteúdos enganosos com aparência legítima. Essa manipulação, aliada à dificuldade de verificação, faz desse grupo um alvo preferencial para fraudes e fake news.
A ideia de que a IA “entende o usuário” e “personaliza a experiência” precisa ser tratada com cautela. Os algoritmos aprendem com dados; mas, se esses dados refletem padrões de públicos mais jovens e conectados, isso pode resultar em recomendações equivocadas, invisibilização de conteúdos relevantes ou até na recusa de serviços automatizados, baseados em interpretações falhas de perfil.
Por isso, torna-se indispensável promover o letramento em inteligência artificial para idosos. Não basta ensinar o uso básico de dispositivos; é necessário capacitá-los para compreender como funcionam os sistemas automatizados, suas limitações e possíveis falhas. Esse conhecimento é essencial para que possam reconhecer riscos, evitar manipulações e exercer plenamente seus direitos no ambiente digital.
Ainda, surge um desafio jurídico delicado: em algumas circunstâncias, prevalece a ideia de que “a IA não erra”. Isso pode levar a uma inversão do ônus da prova, obrigando a vítima a comprovar que foi lesada por um sistema automatizado. O problema é que raramente essas vítimas têm acesso às informações necessárias para essa comprovação, o que fragiliza sua posição em processos de contestação ou busca por reparação.
Portanto, a IA precisa ser concebida com atenção à diversidade etária e envolver a participação ativa dos idosos em processos de design e testes. Serviços digitais, especialmente os baseados em IA, devem adotar interfaces acessíveis e transparentes, guiadas por princípios de justiça social e inclusão. Além disso, para proteger juridicamente idosos em casos de falhas ou abusos cometidos por sistemas automatizados, é fundamental manter canais de mediação humana que auxiliem na contestação de decisões e na produção de provas em situações de litígio. A solução não está em abandonar a tecnologia, mas em adotar modelos híbridos que combinem automação e atendimento humano sensível, garantindo eficiência sem abrir mão da escuta, da empatia e da possibilidade de revisão humana de decisões tomadas por máquinas. Essa integração é um passo essencial para que a inovação tecnológica caminhe junto à proteção dos direitos e ao cuidado da população idosa.
*Marcelo Batista Nery é pesquisador no Think Tank da ABES e na Cátedra Oscar Sala do Instituto de Estudos Avançados da USP (IEA-USP), coordenador de Transferência de Tecnologia e Head do Centro Colaborador da OPAS/OMS (BRA-61) do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. As opiniões expressas neste artigo não refletem, necessariamente, os posicionamentos da Associação.
Aviso: A opinião apresentada neste artigo é de responsabilidade de seu autor e não da ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software
Artigo publicado originalmente no site IT Forum: https://itforum.com.br/colunas/quando-maquinas-nao-escutam-golpes/